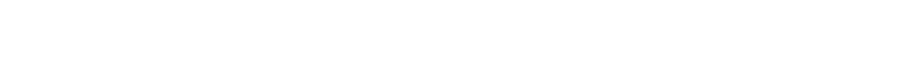Eles pareciam tão simpáticos para os outros, até conhecê-los o suficiente para saber a roubada em que fui arremessada. É, arremessada. Eu não queria isso para mim, não queria ir até lá. Aquela sala fria, o eco da televisão ensurdecendo meus ouvidos já acariciados pelo vento. Sentado atrás da mesa, o juiz que declarou minha escravidão temporária.
Primeiramente me fez acreditar que aquela seria minha única salvação – estava decretado. Tola, ou talvez guiada pela maneira convincente exposta pelo ditador, arrisquei. Sofrendo as consequências dolorosas de arriscar-me em busca de uma razão a mais para sorrir. Agora talvez meu sorriso esteja ofuscado, e a culpa foi de minhas decisões, meticulosamente estudadas e colocadas em prática em uma plena sexta-feira.
Repousando naquela poltrona confortável, discutíamos a respeito da insanidade que a temperatura se submetia, certos de que estaria surtando pela região naquele final de semana de maio. A competição de futebol no sábado não seria a mesma, não com aquele frio cortante. Agasalho seria a solução para este caso, embora o caso que eu estava a vivenciar exigisse mais que um moletom. As luzes me cegaram, estacionei boquiaberta em algum comentário aleatório, e foi então o ponto de partida.
A claridade me impedia de decodificar os sorrateiros vilões a minha espreita. Inicialmente uma injeção, com algum líquido cor de agonia. Depois, exceto pelo frio, não sentia absolutamente nada. O que fariam comigo ali? Eu voltaria para casa? Se voltasse, com certeza seria muito diferente desde então. Depois de esvaziar meus sentidos, acorrentaram meus amigos que trajavam roupas de um pérola reluzente. Em tentativas inúteis de clamar um pedido de socorro, foram enrolados com um arame na doce ilusão de que ficariam melhores de alguma forma. O ferro que viria a machucar-me também, e eu mal suspeitava.
Já os tinha perdido uma vez, não ousaria mais falar se isso voltasse a acontecer. Não pela falta de fala, mas pelo significado que as coisas teriam a partir dessa despedida. Depois de estarem imobilizados, veio a decoração inconveniente a qual foram submetidos, escolhidos por mim, que decidi neutralizar as inúmeras colorações que haviam de cobri-los. Da doce pérola que já expressaram tantos momentos de felicidade, surgiu o preto e o branco, dando espaço para o desprezado sonho de um dia sorrir novamente. Condenados.
Já tinha visto tantos casos de desleixo com os amigos perolados, mas eu, que tinha um carinho imenso por eles, acabei entregando-os de bandeja a uma ideia mal formulada, pautada na necessidade de sobrevivência do homem que me recebeu com um aperto de mão. Este, que prometeu um curto tempo para que eu me acostumasse em tê-los tão diferentes. A essência poderia ser a mesma, mas eles nunca mais seriam aquela infância ou adolescência. Crueldade de minha parte condená-los assim, justamente quando aparentava cuidar tão bem dos pobres meninos.
Péssima educação, embora a culpa não fosse total minha, afinal, eu não queria que eles começassem a brigar por conta de uma invasão de espaço. Mas se ultrapassaram os limites, tiveram que arcar com as consequências dolorosas que vieram posteriores à discussão. No final da história, quem arcou com todos os sentidos depois do efeito da agulhada fui eu mesma. Um acerto de contas, um aceno de cabeça, uma olhada no espelho – não me reconheceria mais por alguns dias. E a notícia tão estrondosa: os vizinhos ainda vestidos com o antigo uniforme sofreriam por conta de um plano bolado pela escala debaixo, que não quis sofrer sozinha. Foram agraciados com mais uma semana de liberdade.
Quanto a mim, sentindo minha carne sendo esbagoada pelo remorso de ter sido brutalmente arremessada para essa decisão e conclusão dramática, passei a odiar os então aparelhos dentários.
Primeiramente me fez acreditar que aquela seria minha única salvação – estava decretado. Tola, ou talvez guiada pela maneira convincente exposta pelo ditador, arrisquei. Sofrendo as consequências dolorosas de arriscar-me em busca de uma razão a mais para sorrir. Agora talvez meu sorriso esteja ofuscado, e a culpa foi de minhas decisões, meticulosamente estudadas e colocadas em prática em uma plena sexta-feira.

Repousando naquela poltrona confortável, discutíamos a respeito da insanidade que a temperatura se submetia, certos de que estaria surtando pela região naquele final de semana de maio. A competição de futebol no sábado não seria a mesma, não com aquele frio cortante. Agasalho seria a solução para este caso, embora o caso que eu estava a vivenciar exigisse mais que um moletom. As luzes me cegaram, estacionei boquiaberta em algum comentário aleatório, e foi então o ponto de partida.
A claridade me impedia de decodificar os sorrateiros vilões a minha espreita. Inicialmente uma injeção, com algum líquido cor de agonia. Depois, exceto pelo frio, não sentia absolutamente nada. O que fariam comigo ali? Eu voltaria para casa? Se voltasse, com certeza seria muito diferente desde então. Depois de esvaziar meus sentidos, acorrentaram meus amigos que trajavam roupas de um pérola reluzente. Em tentativas inúteis de clamar um pedido de socorro, foram enrolados com um arame na doce ilusão de que ficariam melhores de alguma forma. O ferro que viria a machucar-me também, e eu mal suspeitava.
Já os tinha perdido uma vez, não ousaria mais falar se isso voltasse a acontecer. Não pela falta de fala, mas pelo significado que as coisas teriam a partir dessa despedida. Depois de estarem imobilizados, veio a decoração inconveniente a qual foram submetidos, escolhidos por mim, que decidi neutralizar as inúmeras colorações que haviam de cobri-los. Da doce pérola que já expressaram tantos momentos de felicidade, surgiu o preto e o branco, dando espaço para o desprezado sonho de um dia sorrir novamente. Condenados.
Já tinha visto tantos casos de desleixo com os amigos perolados, mas eu, que tinha um carinho imenso por eles, acabei entregando-os de bandeja a uma ideia mal formulada, pautada na necessidade de sobrevivência do homem que me recebeu com um aperto de mão. Este, que prometeu um curto tempo para que eu me acostumasse em tê-los tão diferentes. A essência poderia ser a mesma, mas eles nunca mais seriam aquela infância ou adolescência. Crueldade de minha parte condená-los assim, justamente quando aparentava cuidar tão bem dos pobres meninos.
Péssima educação, embora a culpa não fosse total minha, afinal, eu não queria que eles começassem a brigar por conta de uma invasão de espaço. Mas se ultrapassaram os limites, tiveram que arcar com as consequências dolorosas que vieram posteriores à discussão. No final da história, quem arcou com todos os sentidos depois do efeito da agulhada fui eu mesma. Um acerto de contas, um aceno de cabeça, uma olhada no espelho – não me reconheceria mais por alguns dias. E a notícia tão estrondosa: os vizinhos ainda vestidos com o antigo uniforme sofreriam por conta de um plano bolado pela escala debaixo, que não quis sofrer sozinha. Foram agraciados com mais uma semana de liberdade.
Quanto a mim, sentindo minha carne sendo esbagoada pelo remorso de ter sido brutalmente arremessada para essa decisão e conclusão dramática, passei a odiar os então aparelhos dentários.